Notas sobre a poesia ou o ouriço de Derrida
 editoracontratempo
editoracontratempo- 22 de ago. de 2023
- 8 min de leitura
Por Eleno Giordani da Silva
Universitat de Salt, Catalunha.
Ninguna vanidad en el poesía (…)
ninguna vanidad en imitar el sonido del viento
o de la ola en Isla Negra
donde el mar y El Poeta conversaban
quedamente:
palabras son sonidos
y sonidos son
emociones de las vísceras,
lamento de la mente
angustia de moribundos
frenesí de enamorados
monedas de intercambio
entre una soledad y otra.
Cristina Peri Rossi,
De la poesía como música
Uma das proposições, nos últimos tempos, certamente mais singulares sobre a poesia aparece através de Jacques Derrida, em Che cos’è la poesia[1]? : a poesia é o ouriço que se lança na estrada. “Absoluto, solitário, enrolado em bola junto de si”, podendo a qualquer instante ser justamente esmagado.
Desde que aprendemos a conceber que Platão expulsa os poetas da cidade ideal por perverterem as jovens almas, por desviá-las das veredas do justo e da moral, por serem em si mesmos a pedra nel mezzo del camin – pedra pela qual somos aliás educados –, aprendemos que há algo sinuoso e secreto na poesia que ao mesmo tempo ameaça, arrisca e, por atrevimento, deve ser esmagado, em nome da lei.
Isso acontece na poesia, decerto, porém não em específico no poema, e, em função disso, cabe-nos recordar da conhecida distinção de Octavio Paz, que aqui cito de cabeça: o poema é aquilo que efetivamente lemos, ou escrevemos, algo material, traduzido em letras; a poesia, noutra escala, está espalhada fora do livro, é manifestada em potência, e, por seu caráter insubstancial, tende ao transcendental e aos enigmas da beleza, por sua vez, intangíveis.
É partir daí que se enfileiram todos os dilemas que essa máquina de guerra historicamente chamada poesia, distribuída pelos ambientes mais inóspitos, desperta e enlaça. A poesia, um problema.
Sempre estimularam muito a minha curiosidade as definições dos poetas (e também dos filósofos - na verdade, de quem quer que seja) a respeito da poesia. Wislawa Szymborska insistia que a coisa mais importante que um poeta precisa ter é uma lixeira. Ou seja, o itinerário se instala: da abstração imanente da poesia à corporeidade latente do poema, e da maioria dos poemas por fim escritos à lixeira: eis o caminho que vou chamar aqui, de improviso e nunca sem ironia, de ultrarrealista.
A presença do poeta, degradante, é degredada da cidade; o ouriço, que é a poesia, no entanto, atravessa estradas dando corda ao ritmo imponderável do sensível; o poema composto e recomposto é atraído com frequência à gravidade das lixeiras.
De fato, o fazer da poesia – doce redundância – tem poucos atrativos práticos e/ou funcionais quando assumido por esse viés. A poesia, sobretudo, não é necessária.
Contudo a graça (mesmo contida) parece habitar justo aí, nesse exíguo espaço, sob a inconversível sina às margens, ao irrealocável e à reciclagem, nessa ordem. Noutros termos: ao exílio (dentro e fora de si), à incompreensão (à experiência da desrazão) e à decomposição, como a via Emil Cioran, entre a desesperança e a lucidez (ao passado do que foi há pouco possível – ou, mais a grosso modo, ao descarte, à inutilidade).
A poesia é um comboio de profanações, portanto, e não à toa Oscar Wilde repetia que a bíblia era o maior livro de poesia até então escrito. Virgílio leva Dante a percorrer o inferno, ou seria o contrário? Rimbaud cria para si a própria temporada no inferno; Sartre – que não era poeta – nos ensina que o inferno são os outros, e isso vem a calhar porque a poesia é, como veremos, invariavelmente outrem.
Queria falar, entretanto, um pouco mais acerca do delírio derridiano. Travessia fora de casa, risco entre a tradução impossível e a morte, caminhada aleatória de um trajeto: che cos’è la poesia? Em duas palavras, o filósofo argelino afirma que o poema 1) deve ser breve, independente da sua extensão, uma economia da memória, retração e elipse por vocação;
2) trata do coração (a literatura é uma saúde, lembra Deleuze), porque o poético é aquilo que se deseja aprender do outro, e de cor. Aprender a memória, sem quaisquer garantias de segurança, pois a memória, que é em si o acontecimento de um acidente, promete aquilo que sempre deixa a desejar.
O exercício poético, assim, torna-se o fascínio pela incompletude, pelo irreconhecível, a satisfação com a alteridade tentada, insistida e de antemão inconclusa. É sabido que a poesia não salvará o mundo. Ela acende a faísca do fracasso, trai, prorroga, desenha na areia, num dia de fortes ventos, a espinha dorsal de um típico farniente dando de ombros.
Ler o poema é ouvir a catástrofe se aproximar. “Desde então, impresso sobre o próprio traço, vindo do coração, o desejo do mortal desperta em você o movimento (contraditório, está me acompanhando?, dupla restrição, imposição aporética) de proteger do esquecimento esta coisa que ao mesmo tempo se expõe à morte e se protege - em uma palavra, o porte, a retração do ouriço, como na estrada um animal enrolado em bola. Gostaríamos de pegá-Io nas mãos, aprendê-lo e compreendê-lo, guardá-Io para nós, junto de nós”, dirá Derrida.
Mas o devir-animal do poema ultrapassa o desejo eventual – demasiado humano e civil – do acomodamento. Mesmo assim é preciso guardar algo dessa poesia que escapa, como a memória, porque simplesmente amamos, e então os desvios, o risco, o carro que estraçalha ao passar por cima a duzentos por hora...
A poesia não se acomoda entre os nomes, sequer entre as palavras, ainda que o poema se esforce em realizar tal façanha; ameaçada em seu próprio retiro, a bola em que se fecha para se atirar ao movimento, talvez mortal, antes de mais nada vital, a poesia, ao acreditar defender-se é que se perde. Lança-se ao inferno de um exílio, levando a casa consigo, o corpo frágil em que se habita, pelo instante em que o tempo dá trégua. Ler portanto a poesia durante.
A figura do poeta impedido de regressar à cidade vaga pelas estradas afora, causa estranhamento, inquieta, devido ao aspecto fantasmal, recorda de fora o que se perde da memória. A desgraça do ouriço, seu próprio estresse, é a tarefa de alertar, alertar e não ser ouvido, porque afinal não tem nome, não pertence ao censo, nem ao senso; outra vez ensimesmado, bola de espinho que risca o asfalto, contorna o provável aniquilamento, e transporta a mensagem ao lado de lá do caminho. A carta precisa ser lida para chegar? Embora profana, a profecia retumba: “traduza-me, vela-me, guarda-me um pouco mais, salve-se, deixemos a estrada”.
A poesia então desperta no outro o sonho de decorar. “De deixar-se atravessar o coração pelo ditado”. Quanta besteira, dirão aqueles que se autodeclaram necessários. Mas como afirmava Elias Canetti, “ninguém será hoje um poeta se não duvidar seriamente de seu direito de sê-lo”. A experiência poética, poemática, como prefere Derrida, conduz-nos a conhecer o coração que não conhecíamos, que duvidávamos ter, para assim podermos aprendê-lo.
Aprender o coração, o próprio, pelo exercício ao outro. Atletismo da forma, às vistas do campeão de natação que não sabia nadar, como em Kafka. Em torno do outro, em direção a outrem, em risco grave de morte, porque nesse aspecto tudo se torna vulnerável. Precário como o corpo. Fragilidade da poesia: tratar do que não importa, estando sempre no limite da lei. Canetti: “o poeta é, ainda aí, um criminoso passional”[2].
Para Derrida o poema ensina o coração ao mesmo tempo que o inventa. Coração significa, nos preâmbulos desse ultrarrealismo, aprender de cor. Liberdade e espontaneidade para atingir ativamente o rastro amado, essa cor improvável. Decorar o que se ama, também adorná-la, com esmero, deixar que fique na memória.
É inútil, mas a poesia é essa liturgia (profana) do pathos que avança sobre nós como que vindo do exterior. O coração bate, dá nascimento ao ritmo; no poema, vira métrica, que constrói na memória, gradualmente, a casa-corpo em que o ouriço se enrosca para percorrer. O coração, ao nível do chão, bate e se arrisca a ser abatido, bem colado à terra, deslizando por ela, entrega ao poema, por simbiose, a frequência daquilo que se aprende de cor, selando sentido e letra como um ritmo desdobrado no tempo.
Segundo Pessoa, “a poesia é a emoção expressa em ritmo através do pensamento”. Decora-se nas entranhas da memória aquilo que bate nas frequências próximas às do coração. Que tamanho tem o coração de um ouriço?
Desarmando a cultura, lembra-nos ainda Derrida, sabendo esquecer o saber, é que se alcança a condição para o poema. Para preservar essa memória de cor, dos sentidos e dos deslumbramentos, é preciso celebrar, paradoxalmente, certa amnésia (a amnésia civilizatória das cidades muradas), experimentar o estado da selvageria – ir ao inferno e voltar, Ernesto Sabato dizia o mesmo sobre a loucura –; o ouriço, ao enrolar-se em bola, cega-se de imediato, “eriçado de espinhos, vulnerável e perigoso, calculista e inadaptado (pondo-se em bola, sentindo o perigo na estrada, ele expõe-se ao acidente).
Não há poema sem acidente, não há poema que não se abra como uma ferida, mas que não abra ferida também”. O poema resiste à atividade e ao trabalho, feliz contradição da palavra (poiesis, do grego clássico, quer dizer fazer); ele antes se deixa levar, se deixa afanar, cai vindo de uma outridade tão distante quanto a lua. Cega-se de entendimento, para lançar-se.
Como uma bola de fogo atirada pela catapulta, invade a cidade, e mesmo fervente, ninguém a vê; trata-se de um mero ouriço, afinal, um animal menor, animal que logo sou/sigo, rasteiro, que vaga de uma rua a outra na noite assassina. É com Baudelaire que o poeta volta à cidade, para flanar, no entanto.
Além do mais, o ouriço não é um animal habilitado ao circo, às histrionices, aos espetáculos e aos monumentos do entretenimento. Nem verdade, nem razão, nem diversão. Bem próximo à terra, muito baixo, o ouriço não desperta nenhum rasgo sublime, não é doméstico, menos ainda patriótico – bicho silenciosamente apátrida e esquivo.
Enrolado, voltado para o outro e para si, o poema atravessa o céu da história na forma de uma flecha sóbria, modesta, além do nome, da identidade, das credenciais; um bicho na literatura, porém cego e desacreditado, que ouve, mas não vê a morte vir. Esse “demônio do coração”, como afirma Derrida, traz no seu acontecimento o desvio; viaja para perder, perder países, diria Pessoa, ser outro constantemente, por a vida não ter raízes, de viver de ver somente – apesar do ouriço só ver quando se abre, temporariamente seguro, no outro extremo da estrada.
Que momento quando a poesia vê. Ela de repente para e vislumbra. Com os olhos minúsculos que tem, vê, além de ouvir, os passos e as pegadas desse outro intocável e absoluto, que ora a cerca por estar onde não devia, ora a deixa, por ser delirante demais, traste destinado ao esquecimento do lixo. Quem assina o poema, entretanto, é justamente o outro. Nunca o sujeito. Que momento quando o ouriço finalmente abre-se por completo e espicha-se.
Um ouriço alongando as pequenas patas, de costas para o chão e de barriga para o ar.
A poesia, um apocalipse distraído.
Público e secreto.
Aquilo que divaga sem nome, através dos nomes. O ouriço agora em cima da montanha de lixo, no deserto do Atacama. Porque os instantes belos são breves.
O que é? – a pergunta derradeira e entristecedora da filosofia – “chora o desaparecimento do poema – uma outra catástrofe”, diz Derrida. “Sinto o mundo chorar como língua estrangeira”, escreveu Alejandra Pizarnik. Ao anunciar o que é, nasce a prosa, bem sabemos. Assim como sabemos que é a prosa que está fadada a enrolar.
[1] Jacques Derrida, Che cos’è la poesía?, Points de Suspension. Paris: Galilée, 1992, pp. 303-308, tradução de Tatiana Rios e Marcos Siscar.
[2] Elias Canetti, O ofício do poeta, em A consciência das palavras, São Paulo, Cia das Letras, 2011. Tradução de Márcio Suzuki.



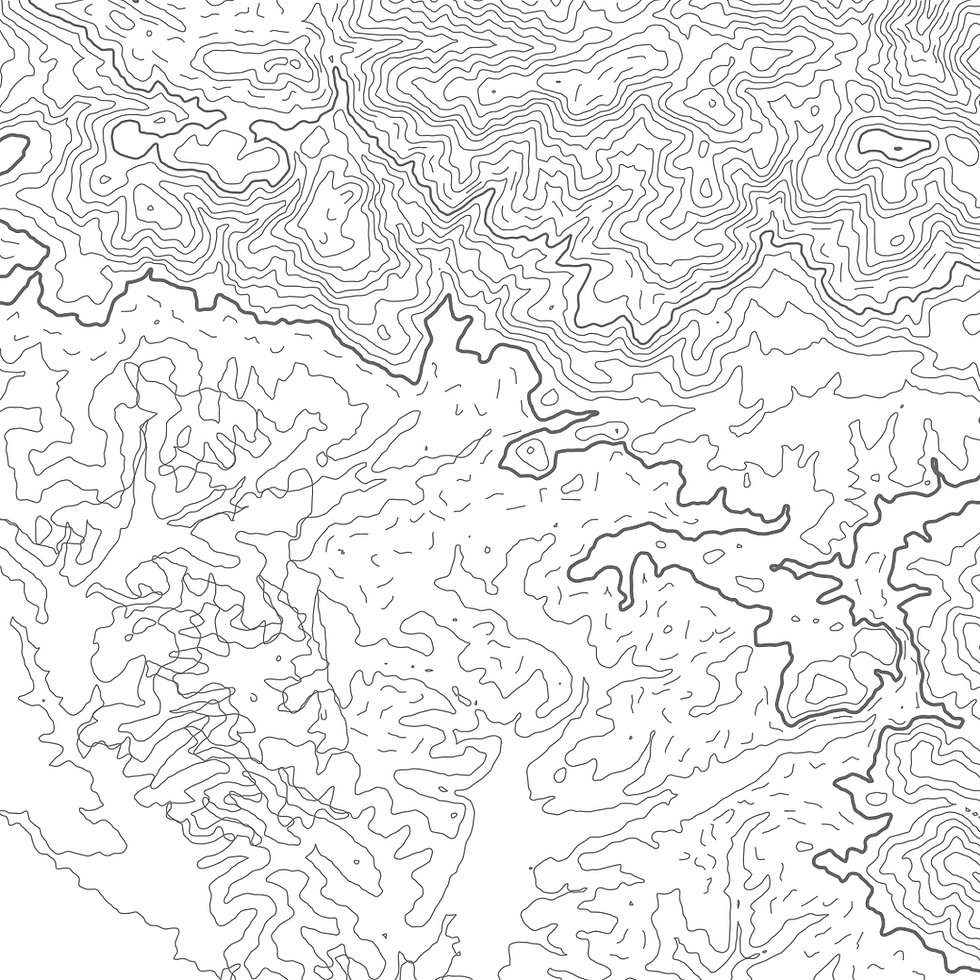
Commentaires